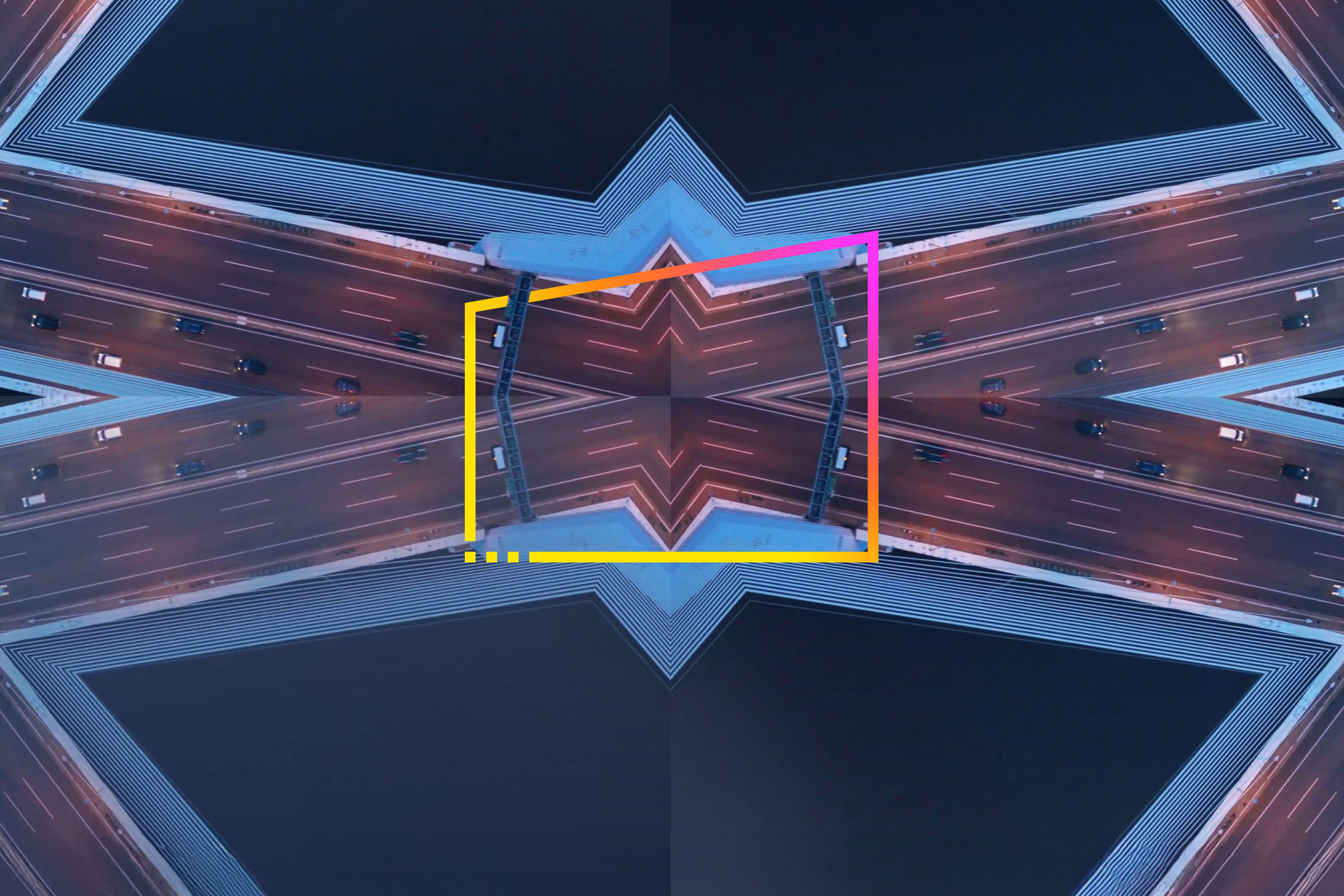EY refere-se à organização global e pode se referir a uma ou mais das firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade legal separada. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa britânica limitada por garantia, não presta serviços a clientes.

Ex-presidente da AMEC e do IBGC, Mauro Rodrigues da Cunha aborda a evolução da governança no Brasil, defendendo o diálogo com investidores e expondo lacunas em accountability, enforcement e sustentabilidade.
Formado em Economia pela PUC-Rio e com MBA pela Universidade de Chicago, Mauro Rodrigues da Cunha trabalhou por 20 anos no segmento de investidores institucionais. Como CIO e gestor de portfólio em diversos fundos de investimento importantes, como Franklin Templeton e Mauá Capital, construiu um histórico de desempenho significativamente superior aos índices de referência.
Começou a atuar em conselhos de administração em 1999, acumulando experiência em quase 20 empresas de diferentes setores, incluindo algumas das mais importantes do Brasil e também listadas na Bolsa de Valores de Nova York, como Petrobras, Eletrobras, Vale e Embraer.
É conhecido por ser um conselheiro bastante participativo, dominando temas como gestão de riscos, auditoria, controles internos, compliance e finanças, e com experiência em alocação de capital, fusões e aquisições, remuneração executiva, sustentabilidade e gestão de crises. Já integrou pelo menos sete comitês de auditoria, e presidiu quatro deles, como hoje o da multinacional de metalurgia Tupy. Também liderou importantes comitês de remuneração, com foco em cultura organizacional.
Na Caixa Econômica Federal foi presidente do conselho de administração. Também presidiu a Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), referência em governança no Brasil.
Morando no exterior, com reuniões de conselho presenciais no Brasil, e pai de cinco filhos, planeja sua vida num horizonte de duas semanas. Tem encontrado “muita paz” na prática regular de meditação e yoga. Leia a seguir a entrevista.
1. Como foi a sua jornada até se tornar membro de conselho de administração?
Tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro e 25 anos como membro de conselho de administração. Como eu ainda não tenho 70 anos, é claro que tem uma sobreposição entre essas atividades. Meu primeiro conselho foi em 1999, no conselho fiscal da empresa Nitrocarbono (petroquímica do Polo Industrial de Camaçari na Bahia, mais tarde integrada a outras empresas para formar a Braskem), que era uma investida do fundo onde eu trabalhava.
Os fundos usavam ferramentas ligadas à governança corporativa para gerar valor e eventualmente isso levava a participação em conselho, isso me motivou a estudar sobre governança corporativa, um tema ainda nascente. Durante meu MBA, a Escola de Negócios de Chicago não tinha nenhum curso de governança corporativa. Então busquei a Escola de Direito, que era o único lugar onde tinha aulas de governança. Acabei me aprofundando cada vez mais, cheguei a estudar Direito por dois anos, e me aproximei do IBGC a partir do ano de 2000. Foram sete anos de IBGC, dois anos na presidência, e foi muito importante para minha carreira não só pelos recursos que o IBGC tinha, mas muito pelas relações internacionais que desenvolvi e parcerias com entidades multilaterais, como OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e Banco Mundial.
Em 2012, deixei a gestão de recursos, virei presidente da AMEC, e entrei em conselhos de empresas muito importantes, a começar pela própria Petrobras em 2013. Até então, eu vinha participando de conselhos de empresas menores, como Renner e Marisol. As pessoas começaram a me indicar mais para conselhos, especialmente em situações complicadas, por conta da minha reputação de atuação assertiva.
Em 2019, deixei a AMEC. Estava atuando na Eletrobras, na privatização da companhia, coordenava o comitê de auditoria, que tinha reuniões semanais para unificar todas as subsidiárias. E logo fui convidado para ser o presidente do conselho da Caixa Econômica Federal. Isso eliminou qualquer possibilidade de eu voltar para uma posição executiva e assim a participação em conselhos se tornou fundamentalmente minha principal atividade. Só passei às vezes pelo lado acadêmico, dando aulas de governança, e crescentemente trabalhos de advisory em governança corporativa.
2. Como sua experiência em gestoras de investimentos moldou o seu estilo e as suas prioridades quando passou a atuar exclusivamente como conselheiro?
Essa trajetória me permitiu conhecer os dois lados da mesa. Há muitas situações nas quais gestores (de investimentos), mesmo com pouca experiência, acham que sabem mais sobre a companhia do que o CEO, simplesmente porque controlam posições significativas no capital. Eu mesmo já fui assim. E percebo que muitas vezes ambos os lados querem a mesma coisa, embora tenham conflitos entre si. Existe muito problema de linguagem entre o mercado financeiro, o gestor de investimentos em particular, e as administrações das companhias. Essa lacuna pode ser coberta por meio da compreensão do papel do engajamento, tanto por parte dos conselhos de administração e das diretorias, como por parte dos investidores de longo prazo.
3. Atualmente, quais os temas que você dedica a maior parte do seu tempo enquanto membro de conselho e presidente de comitê de auditoria?
Eu gasto muita energia na criação desse diálogo quando sinto que ele ainda não existe. Percebo isso quando vejo os investidores se preparando para as assembleias 40 dias antes – e o deadline para enviar candidaturas é 30 dias antes. Acontece que, muitas vezes, essa interferência de última hora confunde muitos planos de uma administração que, muitas vezes, fez um trabalho bom, pode ser melhorado, mas fez um trabalho de evolução do processo sucessório do conselho de administração. E aí chega, na última hora, uma imposição: “tenho 30% do teu capital, toma aqui 3 ou 4 candidatos”. Isso bota tudo de cabeça para baixo e cria uma situação antagonista. Só que não vemos hoje nem nas companhias abertas, nem nos gestores de investimentos, uma percepção da construção desse diálogo ao longo do ano.
As empresas seguem altamente opacas com relação à formação dos seus órgãos colegiados de governança, e os investidores continuam deixando isso para o último minuto e não percebem o valor da criação de um diálogo no longo prazo. Há um problema cultural.
4. De que forma as empresas podem estruturar esse processo de ouvir os acionistas e o mercado financeiro? Nas que já têm, como costuma funcionar?
Duas empresas que eu conheço e que hoje têm esse processo são a Vale e a Totvs. Na Totvs, eu ajudei na sua implementação. Na Vale, eu ajudei na sua evolução. Na Vale tinha dois comitês diferentes: um de indicação, outro de governança. Nós fundimos os dois. Esse comitê liderado e, de preferência, composto unicamente por conselheiros independentes, constrói uma agenda de engajamento com os investidores de longo prazo, em parceria com a área de relações com investidores (RI).
É muito importante saber que as pessoas que vão querer conversar de governança nas casas gestoras provavelmente não são as mesmas que costumam falar com a área de RI e acompanhar as calls de resultados. É fundamental saber essa diferença (de perfil de investidor) e entender os processos decisórios dos grandes investidores internacionais e dos poucos brasileiros que já estão estruturados para ter esse tipo de diálogo.
5. Quando a empresa não tem esse tipo de processo estruturado, e o conselheiro decide ouvir os acionistas de forma independente, quais cuidados deve ter?
Primeiro, evitar conversas em períodos de blackouts. Segundo, saber que informação material não pública não é pra ser discutida. Terceiro é saber que o conselho precisa muito mais ouvir do que falar. O importante é capturar as percepções do investidor. Mas tem que se falar alguma coisa também, porque, os conselhos são opacos demais e o investidor que está do lado de fora muitas vezes não sabe o que tá acontecendo. Isso poderia ser mitigado se os conselhos fossem mais transparentes. Eu costumo dizer que talvez 80% do que se faz no conselho poderia ser publicado no Valor Econômico. Mas existe uma cultura do lado dos conselheiros em termos de valorizar sua profissão e do lado dos advogados, de sempre dizer não para evitar qualquer problema, que acaba levando a essa opacidade excessiva.
6. Quais são os sinais vermelhos que um membro de comitê de auditoria nunca pode ignorar, mesmo quando parecem detalhes operacionais?
Quando as informações vêm tortas. Em muitas empresas os processos são deficientes e é preciso ter paciência com isso. É importante construir processos que permitam ao conselheiro ter uma visibilidade do que está acontecendo na companhia. Quando esse processo de construção recebe retornos como “Ah não, vamos deixar isso pra depois”; “não, essa informação aqui vai dar muito trabalho pra montar”, é porque tem alguma coisa errada.
Os problemas começam a nascer de maneira lenta. Por exemplo, eu estava no conselho de uma empresa em dificuldades financeiras. Essa empresa decidiu começar a pagar os seus diretores estatutários por meio de dividendo de participação societária. Eu falei que não iria compactuar com isso. E renunciei a essa companhia no dia da aprovação do balanço. Não assinei o balanço.
7. Nos últimos meses, temos visto no noticiário casos de investigações de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro no sistema bancário e financeiro brasileiro. Estamos diante de um momento de maior fragilidade da governança corporativa no Brasil?
Tem um aspecto da governança que está fragilizado, que é o accountability (prestação de contas, responsabilização).
Existe hoje uma percepção que o crime compensa e que se pode empurrar as coisas até o limite, que ou se vai ter que desfazer o que se fez, ou se vai pagar uma multa que o seguro não paga. O risco de ser conselheiro de uma empresa aberta no Brasil é zero. Não existe nenhum conselheiro de empresa aberta que tenha sido severamente punido no Brasil, apesar de todos os escândalos de sociedade. Porque o nosso sistema de accountability, e de enforcement (cumprimento forçado de punição efetiva para violações), está falido.
Por outro lado, temos muitas empresas que estão fazendo a coisa certa, e estão inseridas numa dinâmica global de que vale a pena construir uma credibilidade perante os investidores a longo prazo apesar dos incentivos de curto prazo de “ser malandro”, que é a consequência dessa falta de accountability.
E é importante que se diga que esse é o cenário do mercado americano hoje, onde todas as ferramentas de accountability estão sendo diminuídas.
8. Você presidiu tanto a AMEC quanto o IBGC em momentos importantes de evolução da governança no Brasil. Qual é o principal avanço no tema que vimos nos últimos dez anos e qual é o maior desafio ainda não superado?
Vimos o sucesso do Novo Mercado, criado há 25 anos. Nos últimos dez anos, vimos diversas ondas de empresas abrindo capital e vendo que as regras que foram determinadas pelo Novo Mercado, fundamentalmente “one share, one vote” (preceito que cada ação ordinária dá direito a um voto nas assembleias), agregam valor.
Então, esse alinhamento de interesses e essa preocupação com o direito de acionistas mitigam o problema de falência do sistema de accountability. O amadurecimento dos comitês de auditoria e dos comitês de pessoas é um aspecto importante que está ajudando a governança brasileira hoje.
O terceiro ponto que está engatinhando é a questão do engajamento do stewardship, que é essa interação no nível do conselho com os acionistas a longo prazo. Foi criado em 2016 o código de stewardship da AMEC que eu tenho orgulho de ter participado.
9. Você integrou comitê de sustentabilidade e atuou em empresas brasileiras entre as mais importantes do setor energético. Como avalia o grau de preparo das grandes empresas para reportar e gerir os riscos climáticos e de transição energética justa?
São variados. Algumas estão fazendo um trabalho muito sério, como a Suzano e a Klabin. Mas a grande maioria das empresas ainda engatinha. Sobretudo por fazer coisas como colocar a sustentabilidade embaixo da área de marketing. Ou embaixo da área de relações com investidores. Tem muito disso.
A seriedade da iniciativa de sustentabilidade, para mim, começa na estrutura organizacional. O fato das empresas terem, às vezes, comitês de sustentabilidade separados, começa a criar um “núcleo de abraçadores de árvores”. Temos que parar de colocar só ambientalista para cuidar da sustentabilidade. Ela tem que estar integrada à estratégia. Temos que colocar também gente de negócio que aprenda sobre carbono, sobre mudança climática, e a desafiar determinada realidade. Precisa medir as emissões de carbono e metano, e reportá-las no relatório. Ainda estamos a alguma distância de ter a seriedade necessária desse assunto nos relatórios e nas estratégias.
10. Você teria indicações culturais ou fontes de conteúdo relevantes para auxiliar seus pares a refletir acerca dos desafios das posições em conselho?
Meu livro preferido do Ram Charan é o Owning Up: The 14 Questions Every Board Member Needs to Ask (Assumindo a Responsabilidade: as 14 Perguntas que todo Membro do Conselho Precisa Fazer, publicado em 2019), um livro que normalmente não aparece nas listas que as pessoas recomendam. E eu recomendo muito o material produzido pela National Association of Corporate Directors (NACD), é de excelente qualidade e produzido por gente que de fato tem uma vivência muito grande em conselhos e de maneira assertiva.
Resumo
O EY Center for Board Matters (CBM) entrevistou Mauro Rodrigues da Cunha, formado em Economia, ex-presidente da AMEC, do IBGC e do conselho de administração da Caixa Econômica Federal. Ele acumula 25 anos de experiência em conselhos de empresas como Petrobras, Eletrobras, Vale e Embraer. Na entrevista, ressalta a importância do engajamento ativo dos conselheiros com investidores e alerta para fragilidades em accountability e enforcement no Brasil.